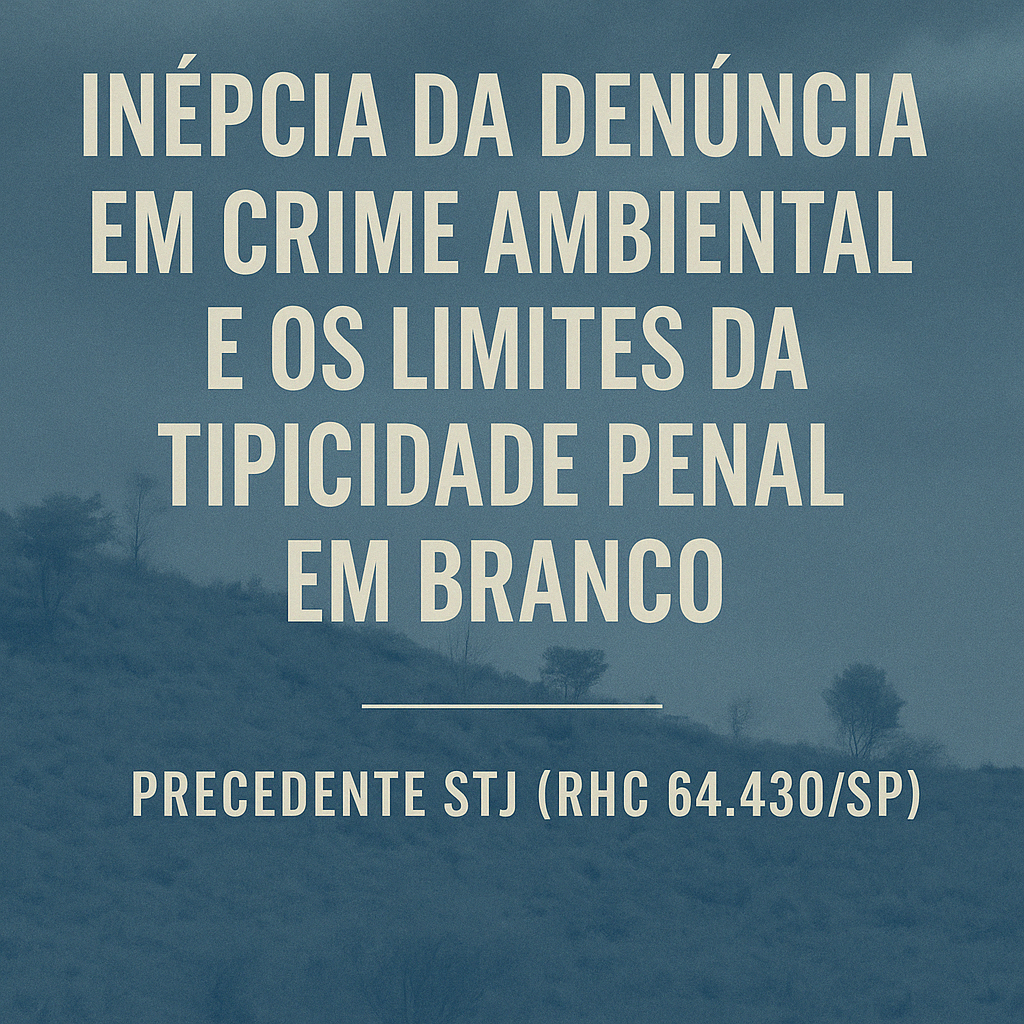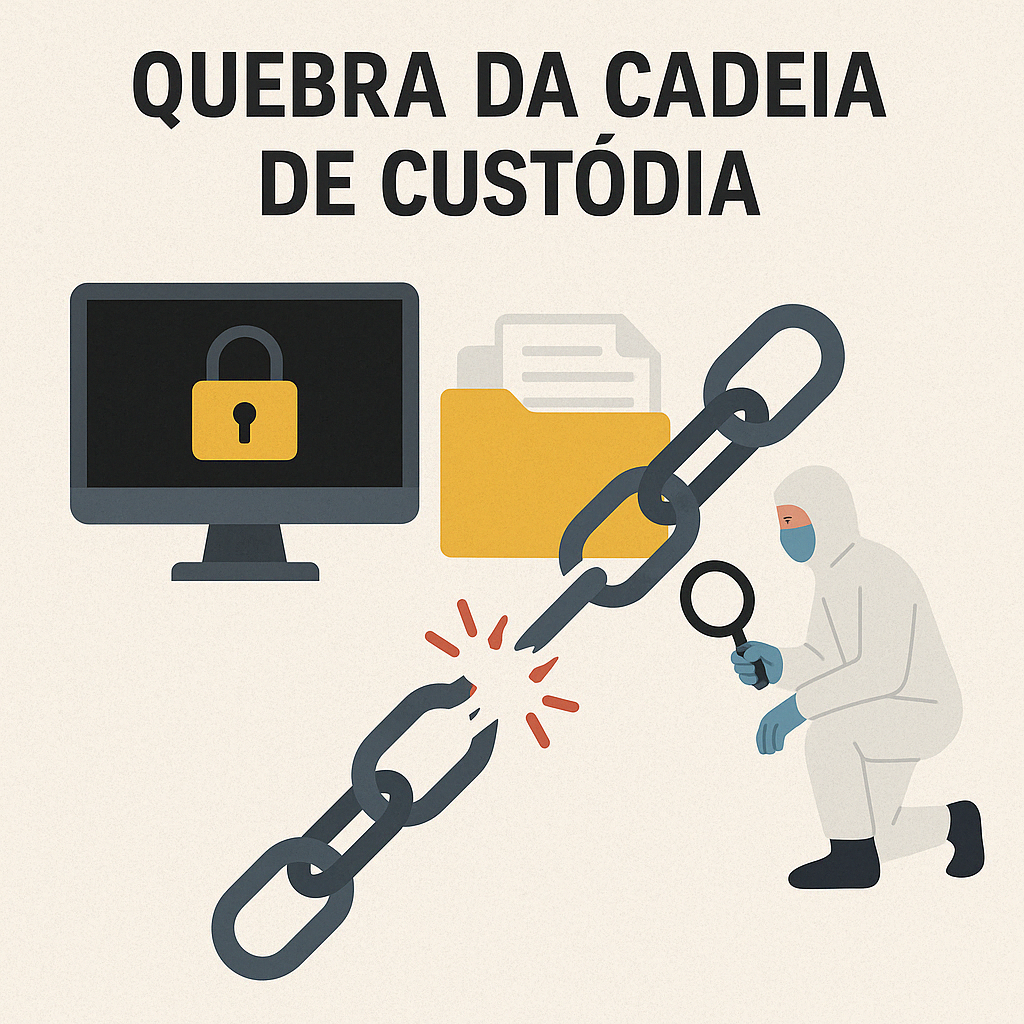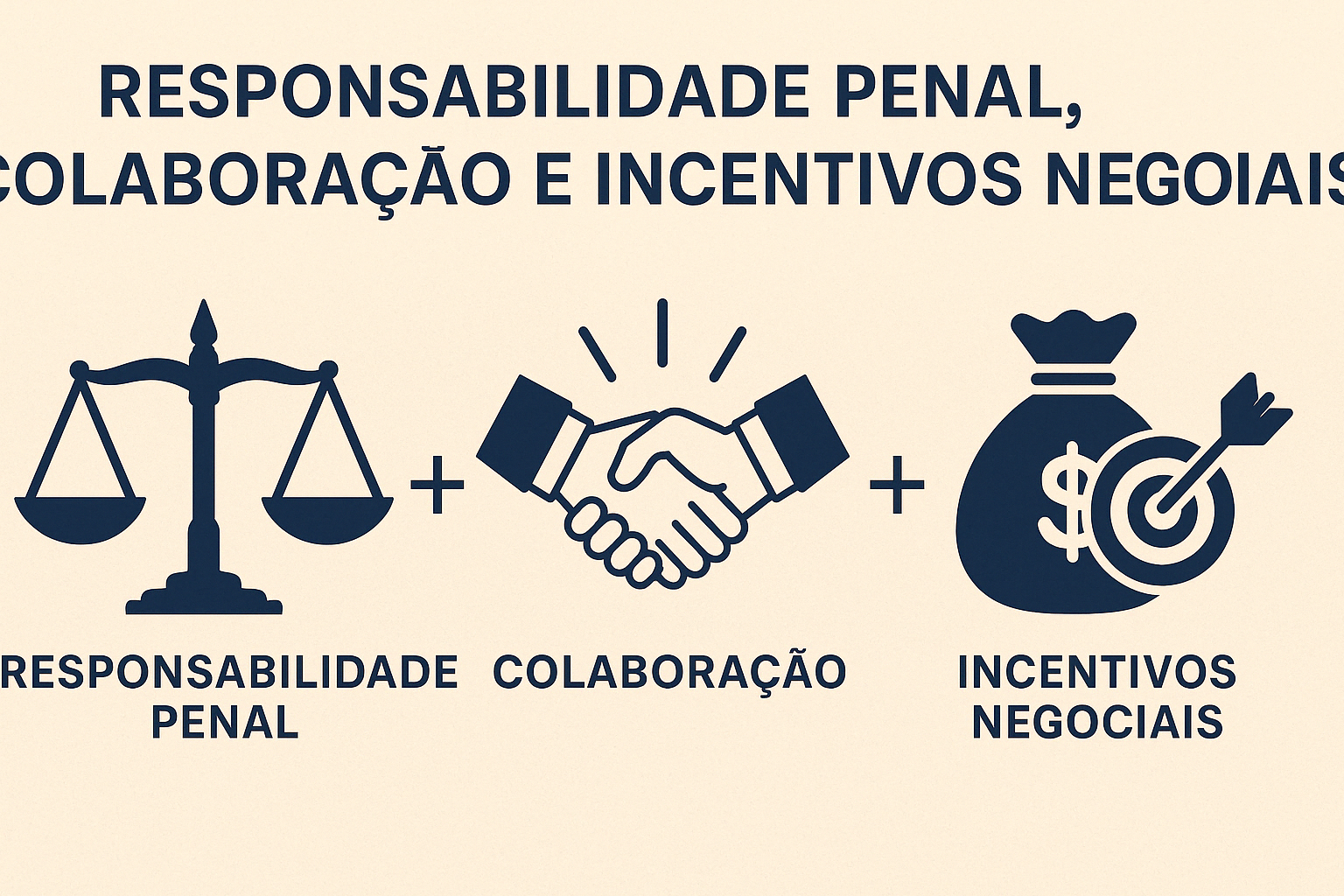ODS, COMPLIANCE E ESG NA RESPONSABILIDADE PENAL EMPRESARIAL BRASILEIRA
Paulo Marcos de Moraes[1]
RESUMO
A crescente relevância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das práticas ESG (ambiental, social e governança) e dos programas de compliance evidencia um novo paradigma na responsabilidade penal empresarial brasileira. Este estudo investiga a intersecção entre esses três elementos como ferramentas de prevenção e responsabilização no contexto do Direito Penal Econômico, com base em uma abordagem qualitativa, teórica e analítica. A pesquisa estrutura-se sob três perspectivas teóricas: funcionalismo penal, teoria do bem jurídico e responsividade regulatória, complementadas por uma fundamentação ético-filosófica baseada no imperativo categórico kantiano. São analisadas obras de autores como Claudia Barrilari, Anabela Miranda Rodrigues, Artur de Brito Gueiros Souza e Pedro Simões Conceição, entre outros. O estudo conclui que a adoção dos ODS e práticas ESG em programas de compliance aprimora a prevenção de crimes, contribui para a identificação de responsabilidades penais e legitima as sanções aplicadas. Essa integração também eleva o patamar ético da conduta empresarial e fortalece a proteção a bens jurídicos essenciais, delineando um modelo responsivo, funcional e eticamente justificável de responsabilização penal.
PALAVRAS-CHAVE
COMPLIANCE; ODS; ESG; DIREITO PENAL ECONÔMICO.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a agenda global de sustentabilidade e responsabilidade corporativa ganhou destaque por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e da ascensão das políticas de ESG (Environmental, Social and Governance). Paralelamente, o Direito Penal vem sendo pressionado a responder aos desafios trazidos pela atuação de grandes corporações na sociedade contemporânea – desde crimes ambientais até escândalos de corrupção – demandando uma reflexão profunda sobre como e por que responsabilizar penalmente empresas e seus dirigentes.
Nesse contexto, a incorporação dos ODS como diretrizes éticas empresariais e a implementação de programas de compliance e práticas ESG mostram-se estratégias promissoras para alinhar os objetivos corporativos aos valores socioambientais e jurídicos vigentes.
Esta pesquisa analisa, com profundidade acadêmica avançada, a importância dos ODS na aplicação de programas de compliance e políticas ESG, e os impactos dessa integração na responsabilidade penal das empresas e de seus diretores no ordenamento jurídico brasileiro. Adota-se uma abordagem crítico-conceitual embasada em três perspectivas teóricas complementares: o funcionalismo penal, a teoria do bem jurídico e a responsividade regulatória. Cada perspectiva oferece lentes distintas para avaliar a legitimidade e a eficácia do Direito Penal Econômico na era da sustentabilidade corporativa.
Para enriquecer a análise, incorporam-se os principais fundamentos e debates doutrinários presentes em obras-chave sobre o tema, notadamente: Claudia Barrilari (2020) sobre a evolução da responsabilidade penal corporativa, Anabela Miranda Rodrigues (2017) acerca da legitimidade do Direito Penal Econômico, Artur de Brito Gueiros Souza (2015) no tocante a compliance e responsabilidade individual, e Pedro Simões Conceição & Luiz Rossetto (2021) quanto à governança corporativa e imputação penal.
Adicionalmente, relaciona-se a filosofia moral de Immanuel Kant, especialmente seu imperativo categórico, com os ODS como norteadores éticos de condutas empresariais corretas e universalizáveis. Desse modo, busca-se demonstrar que a adoção dos ODS no contexto corporativo não é apenas uma questão de cumprimento normativo, mas também de compromisso ético universal, reforçando a ideia de que empresas devem agir segundo máximas que possam valer para todos.
A estrutura do trabalho desenvolve-se em seções analíticas. Inicia-se conceituando ODS, compliance e ESG e traçando um panorama da responsabilidade penal corporativa no Brasil. Em seguida, examinam-se os impactos dos ODS/ESG na compliance e na responsabilização penal sob as três perspectivas teóricas mencionadas. Por fim, apresenta-se uma reflexão kantiana acerca da universalização das práticas empresariais sustentáveis, concluindo com um resumo crítico dos achados e referências utilizadas.
DESENVOLVIMENTO
ODS, COMPLIANCE E POLÍTICAS ESG: CONCEITOS E INTEGRAÇÃO
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Consistem em 17 objetivos globais estabelecidos pelas Nações Unidas em 2015 (Agenda 2030), cobrindo temas como erradicação da pobreza, proteção ambiental, promoção da paz, justiça e instituições eficazes, entre outros. Os ODS representam um consenso internacional sobre prioridades de desenvolvimento sustentável e funcionam como um marco ético-normativo universal para governos, sociedade civil e também para o setor privado. Cada objetivo desdobra-se em metas específicas, servindo de guia para que as organizações alinhem suas estratégias com o bem-estar coletivo e a proteção de bens comuns globais (como o clima, a biodiversidade e a dignidade humana).
ESG (Ambiental, Social e Governança) – É um acrônimo que se refere aos três pilares da atuação corporativa responsável: práticas ambientais sustentáveis (E), responsabilidade social nas relações com empregados, clientes e comunidades (S) e governança corporativa ética e transparente (G). Políticas ESG englobam ações voluntárias da empresa para além do mero cumprimento legal, incorporando preocupações socioambientais em sua gestão de riscos e na criação de valor de longo prazo. Investidores e stakeholders têm demandado cada vez mais divulgações ESG e premiado empresas com bom desempenho nesses critérios, o que incentivou sua difusão. No Brasil, por exemplo, a Bolsa (B3) mantém desde 2005 o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) para avaliar companhias listadas sob critérios ESG, e diversos códigos de governança (IBGC, CVM etc.) recomendam a adoção de políticas de sustentabilidade e integridade.
Programas de Compliance – No contexto empresarial, compliance significa estar em conformidade com leis, regulamentos e padrões éticos aplicáveis. Programas de compliance estruturam mecanismos internos de prevenção, detecção e resposta a desvios de conduta. Conforme definição de Artur de Brito Gueiros Souza, “denominam-se programas de compliance – ou programas de cumprimento ou de integridade – as medidas de autocontrole ou de autovigilância adotadas por empresas consoante as diretrizes fixadas”cpjm.uerj.br. Tais programas incluem códigos de ética, canais de denúncia, treinamento de funcionários, auditorias e controles internos que visam evitar a ocorrência de infrações (inclusive crimes) ou identificar e sanar prontamente eventuais irregularidades. No Brasil, a expressão programa de integridade ganhou força sobretudo após a Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que incentiva empresas a implementarem mecanismos de compliance para prevenir e remediar atos lesivos à administração pública, prevendo atenuantes de sanção para aquelas que possuírem programas eficazes.
Inter-relação entre ODS, ESG e Compliance – Os três conceitos acima se complementam e reforçam mutuamente. Os ODS fornecem uma visão holística e valores norteadores (por exemplo, combate à corrupção está contido no ODS 16 “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”; a igualdade de gênero no ODS 5; trabalho decente no ODS 8; ação climática no ODS 13, etc.). As políticas ESG traduzem esses objetivos em práticas corporativas concretas, integrando preocupações éticas e de sustentabilidade à governança e estratégia empresarial. Já os programas de compliance criam a infraestrutura interna (procedimentos, controles e cultura organizacional) necessária para assegurar que as operações e decisões da empresa estejam em linha com tais valores e com a legislação correspondente. Em outras palavras, enquanto os ODS delineiam o que deve ser alcançado (fins éticos universais), o compliance e o ESG dizem como a empresa pode gerenciar seus processos para atingir esses fins de modo lícito e transparente.
Por exemplo, uma empresa comprometida com o ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima) adotará métricas ambientais rigorosas dentro de sua política ESG (redução de emissões, eficiência energética, etc.) e implementará procedimentos de compliance ambiental para garantir o atendimento à legislação ecológica e padrões internacionais. Do mesmo modo, o ODS 16 (instituições eficazes e combate à corrupção) inspira tanto políticas de Governança fortes – como conselhos de administração independentes, transparência contábil e combate a suborno – quanto um programa robusto de compliance anticorrupção (códigos de conduta, due diligence de terceiros, treinamentos em FCPA/UK Bribery Act, etc.). Assim, alinhar-se aos ODS significa adotar uma postura de integridade corporativa ampliada: não apenas evitar a violação da lei (compliance passivo), mas promover impactos positivos e contribuir ativamente para objetivos sociais maiores Disponível em pactomundial.org. Essa abordagem proativa está em consonância com a ideia, difundida pelo Pacto Global da ONU, de que “não basta as empresas não causarem impactos negativos (…), devem começar a atuar como agentes de desenvolvimento, causando impactos positivos que melhorem o bem-estar da sociedade” Disponível em pactomundial.orgpactomundial.org.
No ordenamento brasileiro, observam-se incentivos e obrigações que tangenciam essa inter-relação. A Lei Anticorrupção já mencionada exige que empresas envolvidas em ilícitos públicos tenham seus programas de integridade avaliados em critérios como comprometimento da alta direção, códigos de ética, canais de denúncia e transparência, ao calcular sanções (Decreto 8.420/2015, art. 42)cpjm.uerj.br. Em alguns setores regulados (ex: financeiro, saúde), reguladores impõem requisitos de compliance específicos e divulgam guias de boas práticas ESG. Ademais, Planos Nacionais de Ação (como o de Empresas e Direitos Humanos) e estratégias governamentais de desenvolvimento sustentável incentivam empresas a aderir voluntariamente aos ODS e relatar seu progresso.
Dessa forma, ODS, ESG e compliance convergem para criar um padrão de conduta empresarial mais elevado, que transcende a simples legalidade e caminha em direção a um ideal de cidadania corporativa. Resta examinar como essa convergência impacta a esfera da responsabilidade penal – isto é, o que ocorre quando, a despeito de todos esses esforços, a empresa (ou seus membros) incorrem em condutas tipificadas como crime. Antes de adentrar as perspectivas teóricas, é preciso delinear brevemente o panorama jurídico da responsabilidade penal de empresas e dirigentes no Brasil, para situar o debate.
Responsabilidade Penal Corporativa no Brasil: Panorama Atual
A ideia de imputar responsabilidade penal a pessoas jurídicas sempre desafiou a dogmática tradicional, sintetizada no brocardo latino societas delinquere non potest (a pessoa jurídica não pode delinquir). No Brasil, até o final do século XX vigorava o entendimento de que somente indivíduos físicos (pessoas naturais) poderiam ser sujeitos ativos de crimes. Essa visão começou a mudar com a Constituição Federal de 1988, que em seu art. 225, §3º, autorizou expressamente a responsabilização penal de empresas nos crimes ambientais. Com base nesse mandamento constitucional, a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) passou a prever sanções penais aplicáveis a pessoas jurídicas (multas, restritivas de direitos e até a possibilidade de dissolução forçada da empresa em casos extremos), juntamente com a responsabilização dos eventuais diretores ou técnicos que tenham contribuído para a infração ambiental.
Fora do campo ambiental, porém, a responsabilidade penal de empresas ainda enfrenta limitações no Brasil. Não há, em nível de Código Penal, uma disciplina geral de crimes corporativos aplicáveis diretamente a pessoas jurídicas (diferentemente do que ocorre em países como França ou Estados Unidos). Existem, no entanto, leis especiais que contemplam a persecução de entes coletivos em determinados contextos. Por exemplo, a Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) admite a responsabilização de pessoa jurídica por lavagem em benefício próprio ou de terceiros; a Lei 8.884/1994 (antiga lei antitruste, substituída pela Lei 12.529/2011) prevê sanções administrativas severas para cartéis e condutas anticompetitivas empresariais; e a própria Lei 12.846/2013, embora não penal stricto sensu, estabelece responsabilidade administrativa e civil das empresas por atos de corrupção contra a administração pública, inclusive com multa de até 20% do faturamento bruto e publicação de sentença condenatória (sanção de reputação). Em suma, construiu-se no Brasil um mosaico normativo híbrido, onde a punição de empresas por ilicitudes graves ocorre majoritariamente na esfera administrativa e civil, com algumas ilhas de responsabilização penal direta (meio ambiente, lavagem, crimes contra ordem econômica, etc.) quando expressamente autorizado.
Para os diretores, administradores e demais indivíduos ligados à empresa, a regra segue sendo a responsabilidade penal pessoal, baseada na culpabilidade individual. Assim, se uma companhia praticou um crime, usualmente busca-se identificar quais pessoas físicas atuaram por meio dela: por exemplo, no caso de um crime de sonegação fiscal corporativa, investigam-se os contadores, diretores financeiros ou procuradores que participaram do fato; num vertimento ilegal de resíduos, apuram-se os gerentes e técnicos ambientais envolvidos. A dificuldade, todavia, está em que as estruturas corporativas complexas e a difusão de decisões podem diluir ou ocultar a autoria individual. Muitas vezes, crimes empresariais são de natureza coletiva ou sistêmica, resultado não de um ato isolado de um indivíduo, mas de decisões difusas, cultura organizacional deficiente ou falhas de supervisão. Isso gerou, na doutrina penal, discussões sobre teorias de imputação adequadas: autorresponsabilidade da empresa, domínio da organização, deveres de garantia dos dirigentes, entre outras propostas para atribuir responsabilidade de forma justa e eficaz.
Diante desse cenário, a emergência dos programas de compliance aparece como um desenvolvimento relevante. Além de seu objetivo preventivo principal, um efeito colateral significativo do compliance é influenciar a atribuição de responsabilidade em caso de delito. Um programa de integridade bem estruturado deixa trilhas de auditoria, define funções e responsabilidades (ex.: quem deve aprovar certas transações, quem supervisiona o quê) e promove uma cultura de accountability. Com isso, se um crime ocorre apesar do programa, torna-se mais fácil identificar se houve falha de controle (responsabilizando um compliance officer ou diretor por omissão) ou se a violação foi fruto de desvio individual deliberado (neste caso, a empresa pode alegar que fez tudo ao seu alcance, isolando a culpa no agente infrator). Conforme observa Souza (2015), os programas de compliance “auxiliam na atribuição de responsabilidade individual nos crimes empresariais”, pois suas estratégias de autorregulação clarificam as posições de garantia e vigilância de dirigentes, oficiais de compliance e empregados dentro da organização. Disponível em cpjm.uerj.br. Em termos penais, posição de garantia refere-se ao dever jurídico de impedir resultado ilícito em virtude de certa responsabilidade (art. 13, §2º do Código Penal); por exemplo, um diretor financeiro tem posição de garante de que a empresa não cometa fraudes contábeis, um chefe de segurança do trabalho deve zelar para que não ocorram acidentes por negligência, etc. Um programa de compliance bem delineado explicita esses deveres: políticas internas atribuem a cada cargo obrigações de controle específicas. Com isso, se sobrevém um crime (p.ex. fraude, acidente, corrupção), pode-se verificar quem descumpriu seu dever de impedir o evento.
No Direito brasileiro recente, verificam-se tendências tanto de fortalecimento quanto de questionamento da responsabilidade penal corporativa. De um lado, projetos de lei e debates doutrinários propõem ampliar a responsabilização de pessoas jurídicas para além do meio ambiente – por exemplo, incluindo crimes contra a administração pública e o consumidor, alinhando-se a compromissos internacionais (como a Convenção da OCDE anticorrupção, que motivou a Lei 12.846/13). Por outro lado, juristas influentes advertem para riscos de “criminalização excessiva da empresa”, lembrando que a empresa é fator de desenvolvimento social e que penalizá-la indevidamente poderia punir também empregados inocentes, acionistas minoritários e a economia (efeito colateral). Luciano Feldens, por exemplo, criticou o que chamou de rotulação precipitada de empresas lícitas como “organizações criminosas” apenas porque um delito foi praticado por meio delas, notando que dissolver a empresa equivaleria a um remédio tão drástico quanto inadequado em muitos casos. Disponível em cpjm.uerj.brcpjm.uerj.br. Esse equilíbrio delicado entre eficácia punitiva e segurança jurídica permeia as discussões.
Nesse contexto, a incorporação dos ODS e das práticas ESG pode funcionar como uma válvula de alívio e, simultaneamente, um reforço para o sistema. Por um lado, empresas que adotam seriamente os ODS tendem a implementar padrões elevados de compliance (pois muitos ODS espelham obrigações legais já existentes, como normas ambientais e trabalhistas, ou princípios éticos amplos, como transparência e equidade). Isso potencialmente reduz a incidência de delitos ou, ao menos, demonstra diligência corporativa, o que pode ser considerado em investigações e sentenças (ex.: a existência de um programa de compliance efetivo pode atenuar a pena-base de um crime corporativo, nos termos do art. 7º, VIII da Lei 12.846/13 em âmbito administrativo, analogia aplicada por alguns juízes na esfera criminal). Por outro lado, a difusão dos ODS e ESG aumenta a cobrança social e regulatória sobre as empresas – atos antes tolerados passam a ser vistos como inaceitáveis. Práticas antes corriqueiras de negócio, mas prejudiciais à sustentabilidade (como descartar resíduos sem tratamento ou manter cadeias produtivas opacas) podem hoje resultar em responsabilização severa, inclusive penal, dada a conscientização advinda dos ODS (por exemplo, o ODS 12 impõe “Consumo e Produção Responsáveis”, o que conecta com tipos penais de poluição e crimes contra as relações de consumo).
Feito este panorama, partimos para a análise sob as perspectivas teóricas propostas, buscando responder: de que forma os ODS, via compliance e ESG, dialogam com a responsabilidade penal empresarial segundo o funcionalismo penal, a teoria do bem jurídico e a responsividade regulatória? E que críticas ou aportes cada perspectiva traz a esse debate?
Perspectiva do Funcionalismo Penal
O funcionalismo penal é uma corrente de pensamento jurídico que enfoca as funções do Direito Penal no contexto social. Em vez de se ater estritamente a categorias lógico-formais herdadas do finalismo ou causalismo, o funcionalismo (notadamente nas versões de Claus Roxin – funcionalismo teleológico – e Günther Jakobs – funcionalismo sistêmico) preocupa-se em adequar a interpretação e a aplicação da lei penal aos fins de proteção de bens jurídicos e de garantia da ordem normativa. Ou seja, importa menos a forma e mais a finalidade da norma penal dentro do sistema jurídico e social. No âmbito dos crimes econômicos e corporativos, essa perspectiva convida a perguntas como: qual a finalidade de punir uma empresa ou seu diretor? Que função a pena cumpre (prevenção geral, especial, retribuição simbólica)? A estrutura das normas deve se moldar para enfrentar a criminalidade corporativa de modo eficaz?
Sob a ótica funcionalista, a emergência da criminalidade empresarial – frequentemente difusa, transnacional e de grande potencial lesivo – exige adaptações no sistema penal para que ele não perca efetividade. Rodrigues (2017) observa que após crises econômicas globais (ex.: colapso de 2008) evidenciou-se a necessidade da intervenção penal em face de certas condutas econômicas ilícitas, apesar das dificuldades investigativas e processuais que essas condutas apresentam Disponível em mprj.mp.brmprj.mp.br. A autora menciona o fenômeno do “capitalismo regulatório“, no qual instrumentos como os programas de compliance passaram a compor uma estratégia de controle da atividade econômica ilícita Disponível em mprj.mp.br. Em termos funcionais, isso significa que o sistema jurídico integrou mecanismos privados de regulação (compliance corporativo) para cumprir a função de prevenção e contenção de crimes, diante da incapacidade do Estado de, sozinho, policiar toda a atividade econômica. Os programas de compliance seriam então uma extensão funcional do Direito Penal, atuando ex ante para evitar ilícitos e ex post auxiliando na apuração de responsabilidades. Essa sinergia público-privado tem um claro propósito: reforçar a eficácia do controle sobre delitos de empresa, evitando tanto quanto possível lacunas de impunidade geradas pela complexidade organizacional.
Um exemplo dessa racionalidade funcionalista é a teoria do domínio da organização, desenvolvida por Roxin. Equivale a uma expansão da ideia de autoria mediata: o autor que controla uma estrutura organizada (como uma empresa ou corporação) e a utiliza para a prática delitiva pode ser considerado autor mediato do crime, mesmo que não execute diretamente o ato. Essa teoria, aplicada notoriamente no julgamento do “Mensalão” pelo STF, forneceu base para condenar dirigentes que, do topo da hierarquia, tinham o poder de prevenir ou permitir ilícitos. Em termos funcionais, trata-se de evitar que a fragmentação de tarefas dentro da empresa (“ninguém fez tudo, cada um fez uma parte”) sirva de escudo contra a responsabilização – um fenômeno descrito por Bernd Schünemann ao distinguir criminalidade de empresa (Unternehmenskriminalität), praticada por meio da pessoa jurídica, da criminalidade na empresa (Betriebskriminalität), praticada contra a própria empresacpjm.uerj.br. Para a primeira, é necessária uma visão holística que possa, se preciso, somar responsabilidades ou atribuí-las paralelamente a diversos atores.
A funcionalidade do Direito Penal Econômico, portanto, pode justificar tanto a criação de tipos penais específicos para atos corporativos (fraudes contábeis, delitos contra consumidores, etc.) quanto a admissão de modelos de responsabilidade sui generis, inclusive da pessoa jurídica, se isto for indispensável para colmatar zonas de ninguém em matéria de punição. Punir empresas passa a ser visto como “necessário” e “legítimo” quando sem tal punição ficariam insuportavelmente desprotegidos certos bens jurídicos de elevado valor coletivo, como realça Miranda RodriguesDisponível em mprj.mp.br. Essa necessidade funcional legitima a flexibilização de antigos dogmas.
Entretanto, o funcionalismo penal não é um cheque em branco para punir a qualquer custo – ele também alerta para a efetividade prática e a coerência normativa das intervenções penais. Barrilari (2020) critica o uso exagerado e a efetividade questionável de programas de compliance quando há falta de articulação destes com a regulação estatal Disponível em conjur.com.br. Ou seja, do ponto de vista funcional, de nada adianta proliferar mecanismos privados de controle que não dialoguem com as autoridades públicas; a prevenção penal privada (compliance) e a pública (fiscalização e sanção estatais) precisam atuar coordenadamente para cumprir sua função. Caso contrário, corre-se o risco de “cosmética corporativa” – compliance de fachada, que apenas simula conformidade – e de ineficácia na prevenção, mantendo-se o sistema penal desfuncional em face dos crimes empresariais. Assim, o funcionalismo também demanda análise crítica: estariam as políticas de ESG e ODS sendo incorporadas de modo substancial ou apenas retórico? Se apenas no papel, sua função preventiva real é nula.
Sob a perspectiva funcionalista, ODS e ESG servem como catalisadores de uma responsabilização mais eficiente. Eles elevam padrões e criam métricas que podem ser internalizadas nos programas de compliance. Por exemplo, indicadores de ODS (redução de emissões, igualdade de gênero nos cargos, transparência) se traduzem em metas concretas a serem atingidas e monitoradas. Esse monitoramento contínuo – típico do compliance – gera dados e relatórios que podem auxiliar órgãos de controle e o Ministério Público a identificar desvios penalmente relevantes. Ademais, a própria existência de uma cultura interna orientada a valores universais (via ODS) tende a diminuir a tolerância a pequenas ilegalidades do dia a dia que costumam ser o germe de ilícitos mais graves (ex.: a empresa com forte postura anti-corrupção provavelmente não permitirá “caixinhas” ou presentes indevidos a fiscais, evitando que isso escale para um crime de corrupção passiva ou ativa).
Em síntese, no prisma do funcionalismo penal: a integração dos ODS e ESG em compliance aprimora a função preventiva do Direito Penal. A empresa deixa de ser vista apenas como um potencial infrator e passa a ser também um agente de prevenção, parceiro do Estado na contenção da criminalidade econômica. Quando essa parceria falha – por conluio ou negligência – o sistema funcionalmente estruturado deve estar apto a reagir, seja atingindo o indivíduo responsável escondido atrás da pessoa jurídica, seja atingindo a própria pessoa jurídica se necessário para surtir efeito dissuasório e preventivo geral. A punição não é um fim em si (retribuição abstrata), mas um meio para manter a confiança nas regras do jogo econômico. Nesse sentido, punir empresas e diretores que contrariem os valores ESG/ODS de forma grave cumpre a função de proteger a sociedade de riscos intoleráveis (desastres ambientais, fraudes sistêmicas, etc.), evitando que o pacto social seja rompido pela atuação irresponsável de atores poderosos.
Uma possível crítica do ponto de vista funcionalista é o risco do “Direito Penal simbólico”, isto é, criar normas penais voltadas apenas a dar resposta aparente à demanda social, sem intenção ou capacidade real de aplicar-se efetivamente. Há que se ter cuidado para que invocar ODS e ESG no discurso jurídico-penal não redunde apenas em campanhas de imagem, mas sim em melhorias concretas na prevenção e repressão de delitos corporativos. A coerência funcional requer acompanhamento: por exemplo, criminalizar uma conduta empresarial anti-ODS (digamos, emissões além do permitido) mas não dotar os órgãos fiscalizadores de meios para inspecionar e detectar isso, ou não treinar o Judiciário para lidar com provas técnicas ambientais, seria uma incoerência funcional. Logo, o funcionalismo penal aplicado aos ODS implica também demandar políticas públicas integradas, investimento em enforcement e métricas claras de sucesso, de modo que a colaboração entre empresas e Estado produza resultados tangíveis.
Perspectiva da Teoria do Bem Jurídico
A teoria do bem jurídico postula que o Direito Penal só se legitima na proteção de interesses fundamentais (bens jurídicos) da sociedade ou do indivíduo, dotados de dignidade suficiente para justificar a intervenção penal. Trata-se de um conceito limitador: evita-se criminalizar condutas que não lesem ou coloquem em perigo um bem relevante (princípio da lesividade), prevenindo abusos punitivos. Nesse enfoque, ao avaliar o impacto dos ODS/ESG na seara penal, pergunta-se: quais bens jurídicos estão em jogo nas condutas empresariais relacionadas aos ODS? e a tutela penal desses bens é necessária ou adequada?
Muitos dos ODS correspondem diretamente a bens jurídicos já reconhecidos na legislação penal brasileira. Por exemplo: o ODS 16 (justiça e instituições eficazes) relaciona-se ao bem jurídico “probidade administrativa” (tutelado pelos crimes de corrupção, licitatórios, etc.) e “administração da justiça” (crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução de investigação). O ODS 8 (trabalho decente) conecta-se à “dignidade do trabalhador” (protegida pelos crimes de redução a condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas, frustração de direito trabalhista, etc.). O ODS 13, 14 e 15 (clima, vida na água e vida terrestre) claramente se referem ao meio ambiente, bem jurídico consagrado na Constituição e na Lei de Crimes Ambientais. O ODS 3 (saúde e bem-estar) lembra o bem jurídico “saúde pública” (tipificado em crimes sanitários, como poluição de água potável, venda de remédios ilícitos). E assim por diante. Ou seja, existe uma correspondência significativa entre os valores promovidos pelos ODS e os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal – o que não surpreende, pois ambos emergem de um consenso básico sobre o que é socialmente danoso ou intolerável.
Entretanto, a teoria do bem jurídico demanda uma análise qualitativa e quantitativa do perigo ou lesão. Nem toda violação de um princípio do ODS implicará, ou deveria implicar, crime. Muitas metas dos ODS são amplas e programáticas, e seu descumprimento melhor se resolve por incentivos, sanções administrativas ou pressões de mercado. Deve-se evitar a inflacion penal (inflacionamento penal) criando crimes para cada objetivo não alcançado. A chave é identificar onde o núcleo essencial do bem jurídico está sob ataque. Rodrigues (2017) enfatiza que o direito penal econômico se legitima perante ataques “insuportáveis” a bens jurídicos de valor relevante Disponível em mprj.mp.br. Isto significa que apenas quando uma conduta empresarial viola de maneira grave um interesse fundamental (por exemplo, polui uma bacia hidrográfica inteira, causando colapso ambiental; frauda milhares de investidores, abalando a confiança no mercado; explora trabalho infantil em larga escala, ferindo direitos humanos básicos) é que se justifica mobilizar a arma penal. Os ODS podem servir como referência de gravidade e extensão do dano: se uma empresa atua contra objetivos que o mundo todo considera cruciais e o faz em intensidade séria, há bons argumentos de que um bem jurídico global está sendo atingido.
Um caso ilustrativo é o de desastres ambientais corporativos – como os rompimentos de barragens de mineração em Mariana (2015) e Brumadinho (2019) no Brasil. Tais eventos violaram ODS diversos (água limpa, vida terrestre, trabalho seguro, comunidades sustentáveis) e atingiram bens jurídicos palpáveis: vidas humanas, meio ambiente ecologicamente equilibrado, patrimônio de comunidades. A resposta penal foi buscada, com imputações de homicídio culposo, crime ambiental, etc., a empresas (no âmbito ambiental) e seus dirigentes. A teoria do bem jurídico apoiaria essa atuação penal pelo quantum de lesão a bens essenciais (vida e ambiente) – ninguém questionaria a relevância de proteger esses valores. Por outro lado, se uma empresa deixa de atingir uma meta voluntária de ODS (por exemplo, reduzir X% de CO2 em 5 anos) sem que isso configure violação de algum limite legal, não se poderia cogitar de punir penalmente tal “fracasso”, pois não há bem jurídico juridicamente delimitado lesado – no máximo descumpriu uma expectativa moral ou de mercado. A distinção entre infração ética/política e infração jurídica permanece crucial.
A teoria do bem jurídico também lança olhar crítico sobre novos tipos penais criados sob a égide ESG. Por exemplo, discute-se internacionalmente a criminalização do ecocídio, ou a expansão dos crimes corporativos de violações a direitos humanos. A validade desses tipos depende de se demonstrar que há um bem jurídico autônomo e importante a tutelar – no caso do ecocídio, seria o equilíbrio ecológico global; no de direitos humanos, talvez a dignidade humana em contextos transnacionais. No Brasil, a literatura penal (ex.: Claudia Barrilari, 2020) sugere cautela e aperfeiçoamento conceitual para definir tais bens jurídicos difusos antes de incorporá-los ao Direito Penal Disponível em jusbrasil.com.brjusbrasil.com.br. A preocupação é evitar que o Direito Penal perca sua referência e atire em todas as direções, esgarçando o princípio da legalidade e fomentando insegurança jurídica. Assim, a teoria do bem jurídico impele a dogmática penal a “apurar a configuração dos ilícitos típicos à luz de uma definição rigorosa dos bens jurídicos de caráter coletivo que se visam proteger” Disponível em mprj.mp.br, como assevera Miranda Rodrigues. Nesse ponto, a agenda ESG/ODS pode contribuir oferecendo parâmetros normativos internacionais – por exemplo, o consenso global em torno de que o clima é um bem comum valioso pode influenciar o reconhecimento jurídico de um bem ambiental climático a ser protegido; os ODS relativos a igualdade de gênero e redução das desigualdades reforçam a percepção da dignidade e não discriminação como bens jurídicos transversais, e assim por diante.
Do ponto de vista da responsabilidade penal dos diretores, a teoria do bem jurídico exige que a conduta destes tenha nexo com a lesão ao bem protegido. Aqui entra a questão do dever de garantia: um diretor pode ser penalmente responsável por omissão se tinha o dever jurídico de evitar a lesão a um bem e não o fez. Quais seriam esses deveres no contexto dos ODS? Por exemplo, diretores têm dever legal de garantir que a empresa não polua (bem jurídico: ambiente), que não financeie o terrorismo (bem jurídico: paz e segurança, correlato ao ODS 16), que não pratique contabilidade fraudulenta (bem: fé pública nas informações societárias, e proteção do investidor). Muitos desses deveres já decorrem de leis específicas. O que muda com ESG/ODS é a visibilidade e a densidade desses deveres: a adoção voluntária de certos compromissos pode até criar novos deveres internos. Imagine que uma empresa, comprometida com ODS 5 (igualdade de gênero), implante políticas internas rígidas contra assédio e discriminação. Se um diretor negligencia completamente a aplicação dessas políticas e ocorrem crimes de assédio sexual sistemático na empresa, poderia se argumentar que ele assumiu o dever (ainda que voluntário) de proteger o bem jurídico integridade sexual das funcionárias, e falhou, incorrendo em omissão penalmente relevante (embora aqui a construção jurídica seja complexa). De forma geral, porém, a teoria do bem jurídico tende a focar em deveres já positivados em norma.
Outro aspecto é que a teoria do bem jurídico fundamenta a necessidade de compliance/ESG sem conflitar com o penal: compliance eficaz ajuda a empresa a não lesar bens jurídicos; ESG busca promover bens jurídicos (ex.: melhoria ambiental). Portanto, idealmente, se todas as empresas cumprissem ESG e ODS à risca, haveria menos crimes porque bens jurídicos estariam resguardados primariamente. Porém, para os casos de descumprimento, a teoria prescreve que se intervenha penalmente apenas quando realmente necessário para proteger aquele bem. Isso coaduna-se com a ideia de Direito Penal como ultima ratio – máxima defendida tanto pela doutrina do bem jurídico quanto pelos formuladores dos ODS, que enfatizam a prevenção e a educação antes da repressão.
Em suma, sob a perspectiva do bem jurídico: a incorporação dos ODS nos programas de compliance e ESG reforça a tutela dos bens jurídicos fundamentais, tornando menos frequente a ofensa penal a esses bens, e ao mesmo tempo delimita o âmbito de atuação legítima do Direito Penal (que deve se concentrar nos ataques graves a esses interesses). A empresa guiada por ODS atuará de acordo com uma ética de respeito a bens coletivos (ambiente, direitos humanos, etc.), e assim estará dentro dos limites do tolerável – o Direito Penal ficará reservado aos desvios excepcionais ou dolosos que causem prejuízos a tais bens. Quando esses desvios ocorrerem, a argumentação jurídica ganha contornos claros: a violação de um ODS de forma grave pode ser apresentada como evidência de violação de bem jurídico relevante, fortalecendo a justificativa da sanção. Por exemplo, uma empresa que sistematicamente polui e vai contra práticas sustentáveis defendidas nos ODS 6, 14 e 15, além de violar leis ambientais internas, afronta um consenso de bem comum, o que pode influenciar o julgador na valoração da culpabilidade e das consequências do crime.
Por fim, a teoria do bem jurídico alerta para não confundir moralidade universal (ODS) com juridicidade estrita: nem tudo que é eticamente reprovável ou socialmente indesejado deve ser caso de polícia. Deve-se atentar à proporcionalidade. Os ODS fornecem um ideal ético; a concretização penal deve ocorrer somente nas condutas que transbordam certa linha de gravidade. Portanto, a internalização dos ODS pelas empresas pode até reduzir a necessidade de intervenção penal, atuando como um filtro anterior. E quando a intervenção acontecer, estará mais respaldada por um sólido fundamento: a proteção de um bem valioso reconhecido nacional e internacionalmente.
Perspectiva da Responsividade Regulatória
A teoria da responsividade regulatória (ou regulação responsiva) surgiu nos estudos de regulação e criminologia (Ayres & Braithwaite, 1992) e sustenta, em essência, que a aplicação de normas deve ser gradual e proporcional, respondendo ao comportamento do regulado. Em vez de adotar uma postura unicamente punitiva ou excessivamente leniente, o regulador deve dispor de um leque de estratégias – educar, persuadir, advertir, sancionar administrativamente e, em último caso, penalizar – escalonando sua resposta conforme o grau de cooperação ou recalcitrância do ente regulado. Visualmente, costuma-se representar a regulação responsiva como uma pirâmide de enforcement, na base da qual está a autorregulação voluntária e no topo a punição severa (criminal inclusive). A filosofia subjacente é que compliance espontâneo é preferível, mas se ele falhar, há camadas sucessivas de intervenção até atingir uma dissuasão eficaz.
No contexto empresarial, essa abordagem se traduz em encorajar as empresas a auto-implementarem programas de compliance e padrões ESG – formas de autorregulação –, monitorando os resultados e somente endurecendo as sanções se e quando necessário. Os ODS entram como diretrizes éticas gerais que inspiram tanto as ações voluntárias das empresas quanto as políticas públicas que moldam incentivos e punições. Por exemplo, um órgão ambiental, sabendo que empresas do setor X aderiram ao compromisso ODS de reduzir poluentes, pode inicialmente fomentar acordos setoriais de redução, certificações voluntárias, etc. Se algumas empresas sistematicamente não cumprirem, o órgão intensifica fiscalizações nelas, aplica multas administrativas (segunda camada) e, em casos extremos de violação deliberada, aciona o Ministério Público para imputação penal (topo da pirâmide).
No Brasil, aspectos de responsividade regulatória são visíveis em diversos mecanismos legais recentes. A Lei Anticorrupção é ilustrativa: ela combina incentivos e sanções – empresas podem firmar acordos de leniência e ter redução de penalidades se colaborarem (regulação negociada responsiva) e podem ter multas agravadas se reincidentes ou se não possuíam controles internos. Da mesma forma, a existência de um programa de integridade efetivo é um fator que atenua a resposta sancionatóriacpjm.uerj.br, refletindo o reconhecimento de que a empresa se auto-regulou em boa fé. Em caso de corrupção continuada e negligência total em compliance, aí sim a lei prevê sanções máximas, publicização da condenação e potencial proibição de contratar com o poder público – escalonamento conforme a resposta (ou falta de) do regulado.
Outro exemplo: alguns estados (como Rio de Janeiro, Distrito Federal) aprovaram leis requerendo que empresas contratadas pelo poder público implementem programas de integridade, sob pena de sanções contratuais ou vedações. Trata-se da chamada “autorregulação imposta”, em que a lei obriga a empresa a adotar mecanismos de compliance, incorporando-os como extensão dos comandos regulatórios Disponível em academia.eduacademia.edu. Essa ideia, discutida por Jacintho Arruda Câmara (2017) e Carlos Ari Sundfeld, mescla responsividade (pois confia-se na empresa para se regular) com obrigatoriedade (não fica totalmente a critério dela). A lógica continua sendo responsiva: espera-se que a empresa, por conta própria, aplique regras internas e previna ilícitos; em troca, o Estado a fiscaliza menos ou a premia com a possibilidade de contratar. Se ela não cumpre, acionam-se consequências (não contratação, eventualmente investigações).
A responsividade regulatória, assim, valoriza intensamente a cooperação entre regulador e regulado. No domínio penal, isso se manifesta pela preferência a soluções consensuais quando possível (acordos, Termos de Ajustamento de Conduta, acordos de não persecução penal recentemente introduzidos para crimes de menor gravidade, etc.) antes de levar o caso à punição máxima. Aplica-se bem ao caso de empresas: muitas autoridades preferem que a empresa infratora se retrate, indenize vítimas, corrija seus sistemas (talvez trocando a administração negligente) e implemente medidas de compliance reforçadas, ao invés de simplesmente buscar sua condenação criminal. Afinal, a condenação criminal de uma empresa pode ter efeitos econômicos adversos e até prejudicar reparações (empresa falida não paga multas nem indeniza). Então, sob a teoria responsiva, pune-se empresa e diretores de forma mais efetiva quando a punição vem calibrada pelo nível de compromisso deles com a correção do problema.
Nesse sentido, os ODS funcionam como um “pacto de boas práticas” inicial – se as empresas se comprometem voluntariamente com eles e os cumprem, a necessidade de coerção diminui. A ESG e o compliance são as ferramentas práticas dessa autorregulação. E a responsividade espera que o Estado atue facilitando e supervisionando esse processo: por exemplo, fornecendo guias, fazendo reconhecimentos públicos (selos, rankings) para empresas ODS-compatíveis (carrot), mas também ameaçando sanções para quem não entra na linha (stick). Essa dualidade é patente no trechos do Pacto Global da ONU que dizem ser necessária não só a cultura do “não cause danos”, mas de “cause impactos positivos”, e caso contrário, que se apele a instrumentos coercitivos Disponível em pactomundial.orgpactomundial.org. A ONU não tem poder punitivo, mas a ideia permeia os governos.
No Brasil, podemos observar uma certa “punição escalonada” em alguns setores: na área ambiental, por exemplo, infrações leves muitas vezes são resolvidas administrativamente (multa simples, embargo) e só casos reincidentes ou de grande dano chegam ao processo criminal. Isso é compatível com a responsividade. Na área trabalhista (análoga à esfera penal quando se trata de trabalho escravo, por exemplo), existe a Lista Suja do trabalho escravo: o empregador flagrado é primeiro notificado, autuado, pode ajustar sua conduta; se não o faz, entra na lista, sofre restrições creditícias; se persistir ou for muito grave, aí sim pode ser alvo de ação penal. Ou seja, criam-se degraus.
Uma vantagem dessa abordagem é reduzir conflitos e custos, conseguindo maior compliance real. Uma crítica possível é o risco de capturas ou do “enforcement” frouxo demais: se o Estado for excessivamente paciente e acreditar nas boas intenções de todos, pode ser enganado por empresas que protelam mudanças prometendo melhorias que não chegam. Aqui, transparência e métricas ESG confiáveis são essenciais para a responsividade dar certo – é preciso medir se a empresa de fato melhorou após uma primeira advertência, por exemplo. Os ODS fornecem alguns indicadores macro, mas dentro da empresa cabe ao compliance reportar indicadores micro (ex.: número de treinamentos feitos, auditorias realizadas, redução de incidentes). Reguladores brasileiros têm investido em compliance ratings – a CGU criou um programa de avaliação de integridade em empresas estatais (Pró-Ética) e até incentiva as privadas a aderirem para ganhar reputação.
No âmbito penal estrito, a responsividade regulatória dialoga com conceitos como “justiça negociada” e “direito premial”. Vemos isso no instituto da colaboração premiada: diretores ou funcionários envolvidos em crimes podem ter perdão judicial ou redução de pena se colaborarem efetivamente com as investigações (Lei 12.850/2013). Trata-se de responsividade: responde-se ao infrator cooperativo com clemência, ao não cooperativo com o peso total da lei. Nos casos de crimes corporativos, muitas vezes há incentivos para que a própria empresa investigue internamente e leve os achados ao MP (os chamados internal investigations seguidas de autodenúncia), o que tem sido prática comum em empresas descobertas na Lava Jato, por exemplo. Essa cooperação público-privada é recomendada por guias internacionais e brasileiros. Barrilari (2020) porém nota que, no Brasil, há uma “falta de articulação entre os programas de compliance e a regulação estatal” que reduz a efetividade prática dessas ferramentas Disponível em conjur.com.br. Ou seja, ainda precisamos aperfeiçoar os canais de diálogo: como a empresa reporta a suspeita? A quem? Com que garantias? Recentes portarias padronizando corrupção empresarial trazem melhorias, mas é contínuo.
Sob a perspectiva da responsividade regulatória, ODS e ESG passam a ser vistos como partes de um sistema regulatório integrado, e não elementos alheios ao Direito. Eles compõem as “regras de segunda camada” – diretrizes voluntárias ou soft law – que orientam a conduta e cuja inobservância, se persistir, pode acionar as “regras de terceira camada” – sanções duras, inclusive penais Disponível em gov.brgov.br. O Estado brasileiro começa a se movimentar nessa direção em matéria de ESG: por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou resoluções exigindo que companhias abertas divulguem informações ESG relevantes (report or explain), numa estratégia de shaming para quem nada faz. Caso uma empresa minta nesses relatórios (por exemplo, o famoso greenwashing – afirmar que está sustentável quando não está), poderá incorrer em punições por informações falsas ao mercado (art. 7º da Lei 7.913/89, ou crime de falsidade). Assim, a falta de lealdade na autorregulação gera escalada para sanção.
Em conclusão, a visão da responsividade regulatória enfatiza um ciclo virtuoso: empresas internalizam ODS e ESG, reduzindo a necessidade de coerção; o Estado reconhece e incentiva essas boas práticas; se falharem, o Estado responde de forma proporcional e progressiva, chegando ao Direito Penal apenas quando as instâncias prévias fracassaram. A responsabilidade penal de empresas e diretores nesse modelo é quase um último estágio, reservado aos recalcitrantes ou aos casos em que a confiança na autorregulação foi traída. Idealmente, uma empresa engajada com compliance/ODS nunca chegaria a enfrentar uma ação penal – mas se chegar, dificilmente poderá alegar surpresa, pois teria recebido alertas e oportunidades de corrigir rota antes. Isso torna a atuação penal não apenas mais justa (pois foram esgotadas outras vias), como também mais contundente em termos de mensagem: sinaliza-se que a sociedade valoriza sim a autorregulação, mas não hesitará em punir severamente quem age de má-fé ou com desídia em relação a bens coletivos importantes.
Kant, Imperativo Categórico e ODS: Ética Empresarial Universal
A filosofia moral de Immanuel Kant oferece um pano de fundo rico para compreender os ODS como guias éticos de conduta empresarial. Kant propõe o imperativo categórico, uma regra moral suprema expressa, em sua formulação mais conhecida, da seguinte forma: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal.” Em termos simples, isso significa que devemos nos conduzir de modo que nossos princípios de ação possam valer para todos os seres racionais sem contradição. Outra formulação kantiana notória é: “Age de tal modo que trates a humanidade, tanto na tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.” Aqui, destaca-se o respeito à dignidade intrínseca de cada ser humano, que nunca pode ser instrumentalizado para objetivos alheios.
Como os ODS se relacionam a essas ideias? Em primeiro lugar, os ODS são por natureza universais: foram acordados por praticamente todas as nações, visando o bem de toda a humanidade e do planeta. Eles expressam valores que, se perseguidos por cada agente (Estado, empresa, indivíduo), claramente poderíamos desejar que todos os demais os perseguissem também – isto os torna candidatos naturais a “leis universais” no sentido kantiano. Por exemplo, o ODS 16 preconiza paz, justiça e instituições eficazes. É possível alguém racionalmente querer que esse objetivo valha só para si e não para os demais? Ou seja, alguém desejaria um mundo onde só a sua empresa não fosse corrupta mas todas as outras fossem? Não – a ética kantiana nos impele a universalizar a honestidade, pois só um mundo em que todos (ou a maioria) são honestos é sustentável e desejável. Assim, quando uma empresa adota políticas anticorrupção rigorosas inspiradas no ODS 16, ela está, em essência, agindo conforme uma máxima universalizável (“nenhuma empresa deve corromper para obter vantagens, pois isso não poderia virar regra geral sem destruir a confiança nos mercados e no governo”). Essa ação é eticamente consistente no teste do imperativo categórico.
Da mesma forma, o ODS 13 (ação climática) pode ser visto sob a ótica de um imperativo categórico ecológico: “cada empresa deve operar de forma sustentável quanto ao clima” passa no crivo universal – se apenas algumas o fizerem e outras não, o objetivo não se alcança; é necessário que todas (ou pelo menos as maiores emissoras) ajam assim para evitar o colapso climático. Kant, em sua época, não tratou de meio ambiente nos termos atuais, mas seu princípio de universalização aplicado ao tempo presente certamente abarcaria a responsabilidade intergeracional implícita nos ODS (satisfazer necessidades presentes sem comprometer as futuras). Se todas as empresas hoje poluírem sem limite visando lucro imediato, nenhuma poderá, ao mesmo tempo, querer que essa seja a lei universal, pois o resultado seria a destruição das bases da vida – uma contradição performativa, já que no futuro não haveria mais empresas lucrativas nem consumidores vivos. Portanto, agir ambientalmente de forma sustentável é uma obrigação ética universal, e os ODS traduzem isso em metas concretas.
A segunda formulação do imperativo categórico – tratar as pessoas sempre como fins, não como meios – ecoa fortemente em vários ODS de cunho social. Tome-se o ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico): ele implica rejeitar práticas que tratem trabalhadores meramente como meios de produção descartáveis, e ao contrário promover condições dignas, segurança e diálogo. Isso é intrinsecamente kantiano, pois reconhece nos trabalhadores sua humanidade e busca realizar seu bem. O ODS 5 (igualdade de gênero) e ODS 10 (redução das desigualdades) também refletem o respeito à pessoa humana independentemente de características acidentais – em um mundo kantiano não se aceitaria, por exemplo, pagar salário inferior a uma mulher pelo mesmo trabalho de um homem, pois isso seria usar a pessoa da mulher como meio menos oneroso, não respeitando seu igual valor como fim em si mesma. Assim, empresas que seguem sinceramente tais ODS estão colocando em prática o imperativo categórico na seara das relações de trabalho e sociedade.
Kant também fala do conceito de “reino dos fins”, uma espécie de comunidade ideal em que todos seguem leis morais que poderiam ter sido estabelecidas pelos próprios (porque racionais e universais). Podemos analogamente imaginar a comunidade global perseguindo os ODS como um protótipo de “reino dos fins” laico: todas as entidades (governos e empresas inclusos) cooperando voluntariamente para o bem comum, sob leis universais de sustentabilidade e justiça. Evidente, a realidade está aquém disso – mas os ODS são projetados justamente como ideal regulativo para orientar políticas e ações Disponível em diarioresponsable.com. David Hume e outros influenciaram Kant sobre a noção de ideal regulativo (um princípio que guia, embora nunca plenamente atingido). Os ODS servem a esse papel no âmbito prático: são objetivos que devemos nos esforçar para atingir, norteando decisões.
Importante notar que adotar os ODS como guia não é meramente seguir uma moda ou atender a pressão externa – sob a perspectiva kantiana, trata-se de dever autoimposto pela razão prática. Em linguagem kantiana, ao aderir aos ODS por convicção, a empresa estaria exercendo sua autonomia moral: reconhece que certas coisas devem ser feitas porque são corretas em si (categoricamente imperativas), e não apenas por cálculo de consequências favoráveis (hipoteticamente, “vou ser sustentável para agradar consumidores”). A genuína incorporação dos ODS seria então um ato de vontade boa em si mesmo – “boa vontade” sendo, para Kant, o único bem sem restrições.
Entretanto, Kant também reconheceria a necessidade de sistemas jurídicos para assegurar que, caso a boa vontade falhe, o dever seja cumprido por coerção. Ele concebia o Direito (jurídico) como o âmbito do “dever ser” externo, que não exige motivação interna virtuosa, apenas conformidade. Nesse ponto, a conexão com a responsabilização penal aparece: o Direito Penal impõe (impositivamente) algumas regras mínimas de convivência universalizáveis – muito alinhadas com ODS fundamentais, como não matar (ODS 16.1 reduzir violência), não roubar (ODS 16.5 reduzir corrupção e crime), não destruir a natureza (ODS 15). Se uma empresa ou diretor age contra esses imperativos, terá infringido não só a ética mas também a lei, e a punição serve para restaurar a ordem da razão prática em nível coletivo. Kant defenderia que as sanções devem ter um caráter retributivo baseado na ideia de justiça (talvez divergiríamos aqui se entrássemos no debate retribuição vs prevenção), mas o ponto é: há uma sintonia entre os objetivos de desenvolvimento sustentável e a vontade racional universal, cuja violação clama por resposta da razão prática, seja pela convicção ética (compliance voluntário) ou pela coerção legítima do Estado (responsabilização penal).
Em termos concretos para as empresas, incorporar o imperativo categórico via ODS significa perguntas como: “Eu, empresa X, ao despejar efluentes tóxicos em um rio para reduzir custos, estou agindo segundo uma máxima que poderia ser universalizada?” Certamente não: se todas fizerem isso, esgota-se a água potável (atingindo ODS 6, água limpa). “Ao fraudar relatórios financeiros para atrair investidores, eu poderia desejar que todas empresas fizessem o mesmo?” Não, pois a confiança nos mercados ruiria (conflito com ODS 16 e 8 – instituições fortes e crescimento sustentável). Essa reflexão leva à conclusão de que as ações anti-ODS são, via de regra, imorais em sentido kantiano, pois ou instrumentalizam terceiros (clientes enganados, comunidades poluídas) ou não podem ser universalizadas sem contradição. Por contraste, ações pró-ODS tendem a ser moralmente louváveis e universalizáveis: “Adotar energia 100% renovável” – todos poderiam e deveriam; “pagar salário digno a todos os empregados” – igualmente.
Portanto, ao adotar os ODS como guias, a empresa está se submetendo a uma ética universal que transcende interesses imediatos. Ela passa a enxergar suas obrigações não apenas como cumprimento de leis impostas de fora, mas como deveres autoassumidos perante a humanidade. Essa internalização ética é o ápice do compliance efetivo: um compliance “por convicção” e não só “por coerção”. Empresas que agem apenas por temor a sanções externas operam no nível heterônomo; já as que agem por entenderem o valor intrínseco daquilo que fazem alcançam um nível autônomo de moralidade, muito mais sólido e alinhado à visão kantiana.
Pode-se argumentar, inclusive, que o conjunto dos ODS representa uma atualização moderna do conceito de “bem supremo comum” mencionado por Kant Disponível em diarioresponsable.com. Kant falava do bem supremo como a conjunção da virtude e da felicidade distribuída conforme aquela virtude, mas no contexto social atual podemos reinterpretar: o bem supremo comunitário seria uma ordem global em que prosperidade econômica, justiça social e integridade ambiental coexistem – exatamente o tripé desenvolvimento sustentável. Ele seria “supremo” porque condiciona todos os outros bens (sem planeta habitável ou coesão social, nenhum bem particular se sustenta) e “comunitário” porque só se alcança coletivamente, com esforços conjuntos. Assim, os ODS podem ser lidos como 17 facetas de um bem supremo comunitário que a razão prática nos impele a promover. Kant afirmava que os seres racionais são fins em si e devem buscar um fim comum que compatibilize a liberdade de todos – o desenvolvimento sustentável pode ser visto como esse fim agregador no século XXI.
Sob essa ótica, a responsabilidade penal das empresas e gestores ganha também um matiz ético-filosófico: quando punimos corporações que violam gravemente os ODS (por crimes correlatos), estamos afirmando que certas ações não podem ser toleradas porque violam princípios que queremos universais. A punição se torna um afirmação de valores morais universais incorporados no ordenamento. Por exemplo, condenar criminalmente uma empresa por dumping tóxico em área de manancial não é apenas aplicar a Lei de Crimes Ambientais – é reiterar que “todas as empresas devem respeitar o meio ambiente”, caso contrário haverá consequência. Nesse sentido, há uma convergência entre a ética de Kant e a função expressiva do Direito Penal: ambos buscam universalidade e racionalidade. Os ODS fornecem o conteúdo material dessa universalidade; Kant fornece a forma e a justificação filosófica.
Concluindo, a filosofia kantiana reforça o caráter imperativo e universal dos ODS como padrão de conduta empresarial. Empresas comprometidas com os ODS estão, consciente ou inconscientemente, adotando máximas que poderiam reger uma comunidade ideal de agentes morais. Isso eleva o discurso de compliance/ESG do mero utilitarismo (fazer isso porque melhora a imagem ou evita multa) para o plano do dever-ser: fazemos isso porque é o certo, porque assim deve ser para todos. E quando tais deveres são ignorados de forma egoísta, o apelo kantiano à coerção através da lei mostra-se coerente – afinal, quem descumpre a lei universal escolhe a exceção para si; a sanção recoloca-o de volta na universalidade da razão, pela força se necessário. Em linguagem menos abstrata: a empresa que polui ou corrompe está se dando um privilégio (ganho indevido) que não quer ver universalizado; a punição a força a abrir mão desse privilégio e realinha seus incentivos para que passe a agir como as demais deveriam agir, igualando-a ao padrão comum.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise desenvolvida permite concluir que a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das políticas ESG nos programas de compliance fortalece significativamente a prevenção e a responsabilização de ilícitos corporativos, ao mesmo tempo em que traz à tona desafios conceituais e práticos no âmbito do Direito Penal brasileiro. Sob as três perspectivas teóricas examinadas – funcionalismo, bem jurídico e responsividade –, convergem entendimentos de que alinhar a conduta empresarial a valores universalmente compartilhados (como os ODS) produz benefícios tangíveis: reduz os riscos de ocorrência de crimes, facilita a identificação de responsáveis quando violações ocorrem, e legitima as respostas sancionatórias do Estado diante dos casos graves.
Do ponto de vista funcionalista, a incorporação dos ODS via compliance/ESG aprimora a função preventiva do sistema penal, tornando-o mais eficiente e adaptado à criminalidade empresarial contemporânea. Programas de compliance baseados em valores ESG funcionam como extensões do próprio controle penal, internalizando normas e monitorando comportamentos dentro das organizações. A punição penal das empresas e diretores, nesse prisma, cumpre o papel de fechar o ciclo de prevenção quando necessário, atingindo aqueles que desviaram do padrão esperado e causando efeito pedagógico para o meio empresarial. Entretanto, apontou-se a necessidade de evitar simbologias vazias: compliance e ESG precisam ser efetivos, com integração à fiscalização estatal, para não virarem letra mortaDisponível em conjur.com.br. O funcionalismo clama por resultados, e para isso as boas práticas devem ser sinceras e verificadas.
Sob a teoria do bem jurídico, a agenda ODS esclarece e enfatiza quais são os interesses jurídicos cruciais que merecem tutela penal. Ambiente, probidade, dignidade da pessoa, estabilidade financeira – todos estão contemplados nos ODS e já ressoam na legislação penal pátria. A adoção dos ODS pelas empresas reforça a proteção a esses bens e delimita o âmbito legítimo de intervenção do Direito Penal às situações de ataque relevante a eles Disponível em mprj.mp.br. Assim, evita-se tanto a criminalização exagerada de condutas pouco lesivas (mantendo o foco nos bens de maior envergadura) quanto a omissão frente a danos sociais expressivos (pois tais danos, quando correspondentes a ODS centrais, dificilmente passarão despercebidos pela opinião pública e pelos operadores do direito). O resultado esperado é um Direito Penal Econômico mais equilibrado e proporcional, que saiba distinguir um simples descumprimento regulatório de uma ofensa grave ao bem comum. Essa perspectiva ressalta, ainda, que compliance e ESG não substituem a lei penal, mas são camadas complementares de proteção – a lei penal continua indispensável como resguardo final dos bens jurídicos, devendo ser acionada contra quem viola dolosamente os pilares do desenvolvimento sustentável.
A responsividade regulatória, por sua vez, oferece um modelo de governança penal multi-nível: incentiva-se a autorregulação com base nos ODS/ESG (códigos de conduta, pactos setoriais, relatórios de sustentabilidade), e graduam-se as reações estatais conforme a conduta empresarial Disponível em pactomundial.org. Empresas cooperativas, que investem em compliance e aderem sinceramente aos ODS, tendem a receber tratamento mais brando – até mesmo evitando processos penais mediante acordos e autocomposições. Já empresas renitentes ou que agem em contrariedade aos compromissos assumidos enfrentam sanções crescentes, culminando em processos criminais quando necessário. Essa dinâmica torna a responsabilização penal mais justa e eficaz, pois penaliza-se quem efetivamente merece (pela falta de empenho em se comportar conforme o esperado pela sociedade). O Brasil vem incorporando elementos dessa responsividade, mas a consolidação desse modelo requer avanços: marcos legais que prevejam incentivos claros ao cumprimento espontâneo (por exemplo, um eventual “prêmio de compliance” no cálculo de penas, à semelhança do que ocorre no âmbito administrativo), agências reguladoras atuantes e coordenadas com autoridades penais, e transparência para aferir quem está realmente “fazendo a lição de casa” no campo ESG.
A reflexão filosófica kantiana adiciona a tudo isso uma dimensão de fundamentação ética: ao relacionar o imperativo categórico com os ODS, compreendemos que a motivação última para as empresas agirem de forma sustentável e íntegra deve ser porque isso é moralmente correto e universalizável, e não apenas por medo de punição. Em outras palavras, o ideal seria que o impulso ético interno tornasse o impulso punitivo externo quase desnecessário. Evidentemente, na prática nem todas as empresas ou indivíduos atingirão esse grau de conscientização moral, daí a perenidade do Direito Penal. Mas alinhar as regras do compliance corporativo com preceitos universalizáveis (ODS) aproxima o mundo corporativo daquela ideia kantiana de uma “comunidade de seres racionais” coobrigados por leis justas Disponível em diarioresponsable.com. Isso confere um peso normativo-cultural às iniciativas de sustentabilidade: elas não são moda passageira, mas parte de um ethos civilizatório em construção. Nesse contexto, quando uma empresa ou gestor é responsabilizado penalmente por violar gravemente um ODS (por exemplo, devastando o meio ambiente ou praticando corrupção sistêmica), tal ato punitivo encontra ressonância em valores universais e não apenas na letra fria da lei.
Em conclusão, a integração dos ODS em programas de compliance e políticas ESG representa uma evolução benéfica para o paradigma da responsabilidade penal corporativa no Brasil. Empresas que voluntariamente incorporam objetivos como integridade, transparência, sustentabilidade ambiental e justiça social tendem a criar ambientes de controle interno que previnem delitos e facilitam a accountability. Isso beneficia a sociedade (menos crimes e danos), o Estado (menor necessidade de gastos com fiscalização e reparação) e as próprias empresas (que sofrem menos sanções e protegem sua reputação). Por outro lado, tal integração traz consigo a expectativa de um maior rigor na cobrança: diretores não podem mais se escusar alegando desconhecimento ou falta de meios de compliance, pois hoje abundam guias e padrões internacionais a seguir; a empresa não pode alegar que “não sabia” do impacto social negativo de suas práticas, dado o consenso dos ODS. Ou seja, o sarrafo foi elevado – quem não se adequar ficará mais claramente em posição de culpa.
Do ponto de vista legislativo e regulatório, o Brasil possivelmente caminhará para positivar cada vez mais elementos de ESG e compliance em sua legislação penal e administrativa. Sinais disso incluem debates sobre tipificar o crime de ecocídio, propostas de criar circunstâncias agravantes genéricas para crimes cometidos por violação de deveres de programas de integridade, ou mesmo a defesa da inclusão de um capítulo específico no Código Penal sobre crimes empresariais que harmonizem a punição de pessoas físicas e jurídicas. Tais iniciativas devem ser guiadas pelos fundamentos aqui discutidos: a necessidade funcional de enfrentar riscos corporativos, a delimitação pelos bens jurídicos envolvidos e o desenho responsivo que evite tanto a impunidade quanto o excesso.
Em suma, a convergência entre compliance, ESG e ODS estabelece um novo patamar de governança ética e jurídica para as empresas, no qual a responsabilidade penal aparece como a última linha de defesa da sociedade contra desvios inaceitáveis. As perspectivas teóricas examinadas não apenas explicam essa convergência, mas também fornecem critérios para seu aperfeiçoamento contínuo. Ao fim e ao cabo, garantir que as empresas ajam de forma empresarialmente correta e universalmente válida, nas palavras do imperativo categórico, é um objetivo compartilhado tanto pelo Direito Penal moderno quanto pela agenda global de desenvolvimento sustentável – um caso exemplar em que a ética e o direito caminham de mãos dadas em prol de um futuro mais justo e seguro.
REFERÊNCIAS
- BARRILARI, Claudia Cristina. Passado e futuro da responsabilidade penal corporativa. In: SOUZA, Luciano Anderson de (Org.). Compliance no Direito Penal – Vol.5. São Paulo: Thomson Reuters – Revista dos Tribunais, 2020. p.41-62. conjur.com.brconjur.com.br
- RODRIGUES, Anabela Miranda. Direito penal económico – É legítimo? É necessário? Revista Brasileira de Ciências Criminais, Ano 25, n.127, jan. 2017, p. 15-38. mprj.mp.brmprj.mp.br
- SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Programas de compliance e a atribuição de responsabilidade individual nos crimes empresariais. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 25, n.3, 2015, p. 507-536. cpjm.uerj.brcpjm.uerj.br
- CONCEIÇÃO, Pedro Simões; ROSSETO, Luiz Henrique C. Estruturas societárias e imputação penal: entre governança corporativa e teoria do delito. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (Coords.). Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p.167-191. jusbrasil.com.br
- Pacto Global da ONU – A missão do Pacto Mundial: 10 Princípios + 17 ODS. Rede Espanhola do Pacto Global, 2018. (Disponível em: pacto global/org). pactomundial.orgpactomundial.org
- KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785). Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2003.
- ARRUDA CÂMARA, Jacintho; SUNDFELD, Carlos Ari. Responsividade regulatória e autorregulação imposta: o devido processo legal e a legalidade como limites. Revista Fórum de Direito da Economia Digital, v.1, n.1, 2017. academia.edu
- FELDENS, Luciano. Criminalização da atividade empresarial no Brasil. Revista de Direito Penal Econômico e Compliance, v.1, n.2, 2015, p. 95-118. cpjm.uerj.brcpjm.uerj.br
- BRAITHWAITE, John. Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry. Routledge, 1984.
[1] Advogado, Vice-presidente do Instituto ODS da Amazônia, Presidente da Comissões de ODS da OAB/PA